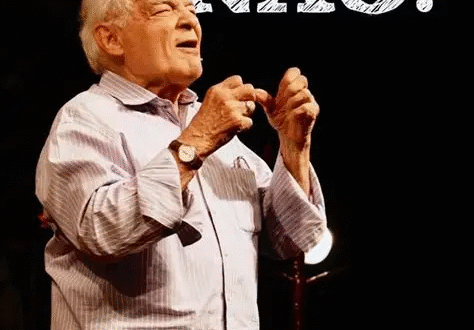A carranca sob o verniz: afeto e Estado em Um Dia Muito Especial
Ao entrar no teatro, diante de uma plateia imensa, as primeiras projeções — Hitler e Mussolini saudados com pompa pela população de Roma — cortam o ar com uma atualidade triste. É impossível não ligar essa sensação ao que considero a função da arte: reconhecer o próprio tempo e criar em sincronia com ele.
É função da arte — e, portanto, da artista — reconhecer o próprio tempo e criar em sincronia com ele. Dessa premissa, montar Um Dia Muito Especial no teatro brasileiro tem total sentido. A atualidade é cortante. A peça inteira é conduzida pela tensão daquele clima político.
A tentativa de Antonietta e Gabriele de viverem suas “vidas pessoais” — ela seguindo a ideologia da família tradicional, ele a sua “natureza” — está fadada ao fracasso. Pois não existe esfera privada imune à superestrutura política. O fascismo (a política) não é algo externo que “atinge” a vida deles; ele é a expressão da luta de classes e do poder estatal que determina as condições dessa vida.

Antonietta é uma vítima da falsa consciência: sua identidade de “mãe de família” não é uma escolha pessoal, mas um papel social imposto pela ideologia dominante para servir ao Estado. Ela cristaliza uma forma de falsa consciência: o papel de “mãe de família” não é uma opção íntima, mas um dispositivo que a recruta como fiadora involuntária da política que a oprime. Ela não sabe que o preço do feijão que cozinha, a educação fascista que seus filhos recebem e a própria existência do marido como um funcionário medíocre do regime dependem inteiramente daquele desfile que ela escolheu ignorar.
O texto rompe a ilusão de um drama puramente “pessoal” a todo momento. O rádio e as projeções não são paisagem: entram em cena como a própria voz do Estado, um terceiro personagem que pauta, interrompe e disciplina. Em mais de um momento, o feixe estreito de luz recorta Antonietta na moldura da janela; quando o locutor sobe, a luz afunila meio tom e o pátio vira cela. O som do rádio tem granulação áspera, sem nostalgia: mais sirene do que memória. Quando Antonietta e Gabriele têm seu momento mais íntimo e humano, a voz do locutor (a voz do Estado fascista) invade a sala. Estes elementos são usados para criar estranhamento: para não deixar o espectador esquecer que aquele encontro privado só está acontecendo porque o Estado está lá fora, e que esse mesmo Estado está prestes a destruir aquele momento. O clímax dessa internalização da opressão acontece quando Antonietta dá um tapa em Gabriele. É o momento em que a ideologia fascista internalizada age através de Antonietta. Ela, uma oprimida, torna-se momentaneamente uma agente da opressão do Estado. Há um gesto mínimo que me ficou: Antonietta ajeita a barra do vestido e, no mesmo movimento, retrai as mãos — como se pedisse licença à própria roupa. É a ideologia operando nos músculos.

Se o rádio é a voz do Estado, a Zeladora é o seu olhar que ronda. A Zeladora (Carolina Stofella) ronda como um par de olhos do regime, tão naturalizados que parecem força da natureza — vento que entra pelas frestas e tudo observa. O elenco trabalha em concerto; Maria Casadevall e Reynaldo Gianecchini entregam o desenho que a encenação exige. Antonietta encontra uma escuta e, nela, o tempo de pensar a própria vida; dessa fenda nasce a ilusão — mínima, porém real — de mudança. Ali, deixam de ser fêmea parideira e macho provedor: reconhecem-se como humanos, com suas especificidades. É nesse reconhecimento mínimo — humano antes de funcional — que o espetáculo encontra sua força.
A peça opera justamente nessa fratura. Ela costura o “Macro” — o evento histórico, o desfile, a propaganda estridente no rádio — com o “Micro” — a solidão de dois seres humanos num pátio interno de um prédio. Num dia em que toda a atenção está voltada para os “grandes homens” (Hitler e Mussolini), a dramaturgia se foca em duas pessoas que o regime considera descartáveis: a mulher subjugada e o homossexual perseguido.

O fascismo não é só um pano de fundo; é o antagonista. É o regime que define o lugar de Antonietta (mãe e dona de casa, cuja única função é “dar filhos à pátria”) e o não-lugar de Gabriele (o homossexual, visto como “doente” e “antinatural”, prestes a ser exilado). E a violência não precisa ser óbvia; ela está introjetada nas personagens. É a violência ideológica, que é muito mais sutil e profunda: a opressão de Antonietta não vem de um soldado, mas de seu marido fascista (um “macho” medíocre) e de seus próprios filhos, que já foram doutrinados pela escola. Ela é prisioneira em sua própria casa. E aqui a arquitetura técnica aperta o laço: a trilha de Dan Maia, os cenários de Marco Lima e a luz de Cesar Pivetti formam um triângulo disciplinador — pátio-cela, som rarefeito, feixes que enquadram — contra o qual o afeto de Antonietta e Gabriele fricciona.
A relevância está em dar dignidade e voz a quem o fascismo tentava apagar. Em um mundo dominado pela força bruta e pela masculinidade tóxica, a única forma de resistência que resta a Antonietta e Gabriele é o afeto. A breve conexão entre eles — a dança, a conversa, a compreensão mútua — é um ato de humanidade radical e, portanto, um ato de subversão. A escuta, aqui, não é ornamento: é método e matéria — uma pequena greve íntima contra o rito fascista lá fora.
E isso dói ainda mais ao ver as referências ao Duce e lembrar das semelhanças com a postura da primeira-ministra Giorgia Meloni, cujo governo possui fortes e claras ligações com o passado fascista da Itália. Seu partido descende do Movimento Social Italiano (MSI), ela já elogiou publicamente Mussolini, recuperou o slogan fascista “Deus, Pátria e Família” e se identificou com seus herdeiros. Não por acaso, esse mesmo slogan é associado a Jair Bolsonaro e remete à Ação Integralista Brasileira, dos anos 1930. Nada é por acaso.
Dói constatar, noventa anos depois, a reciclagem do léxico e dos rituais — não por nostalgia, mas por funcionalidade política.

Diante disso, este espetáculo — um belo espetáculo, com elenco muito afinado e consciente — é um estilhaço de lucidez na tempestade. É o gesto de olhar para a catástrofe e reconhecê-la. É um ato de interrupção, um “estado de emergência” que nós, os oprimidos (porque fazer um espetáculo com este conteúdo é tomar um lado), temos o dever de declarar contra a marcha aparentemente inexorável do fascismo.
É a recusa em aceitar que a carranca, mesmo com verniz novo, não seja reconhecida pelo que sempre foi: o rosto da barbárie. E, nesse reconhecimento, reside a possibilidade, ainda que tênue, de desviar a catástrofe. O texto é urgente e necessário. Saí do teatro com a sala ainda imensa dentro de mim — e com a sensação de que reconhecer a carranca sob o verniz é, hoje, um trabalho de plateia também.
Ficha técnica
- Autores (roteiro original): Ettore Scola; Ruggero Maccari; Gigliola Fantoni
- Tradução: Célia Tolentino
- Adaptação e Direção: Alexandre Reinecke
- Elenco: Reynaldo Gianecchini; Maria Casadevall; Carolina Stofella
- Locução: Alexandre Reinecke
- Direção de Produção e Adereços: Marcella Guttmann
- Trilha Sonora: Dan Maia
- Cenários: Marco Lima
- Iluminação: Cesar Pivetti
- Design Gráfico: Victoria Andrade
- Fotografia: Priscila Prade
- Figurino Masculino: Ricardo Almeida
- Figurino Feminino: Debora Ceccatto
- Assistência de Direção: Carolina Stofella
- Produção Executiva: Kauan Ramos
- Edição de Vídeo: Otávio Maia
- Finalização de Vídeo: Gafanhotto Post
- Hair Stylist e Visagismo: Robson Souza
- Makeup Artist: Beatriz Ramm
- Contra-regra: Filipe Tomochigue; Lourival Rodrigues
- Operação de Luz: Cesar Pivetti
- Operação de Vídeo: Hugo Lima
- Operação de Som: Kleber Marques
- Microfonação: Julia Mauro
- Camareira: Mirian Martins
- Assessoria de Imprensa: Pombo Correio
- Produtores Associados: Reynaldo Gianecchini; Alexandre Reinecke
- Realização: Reinecke Produções Culturais Ltda.; Erregedois Produções Artísticas e Culturais Ltda.
Newsletter
Gostou desta resenha?
Receba a próxima no seu email.
Sem spam. Apenas reflexão, cena e pensamento crítico sobre teatro paulistano.
Sem spam. Cancele quando quiser.
Cadastro confirmado.
A próxima resenha chega direto na sua caixa de entrada.
Algo deu errado.
Tente novamente.